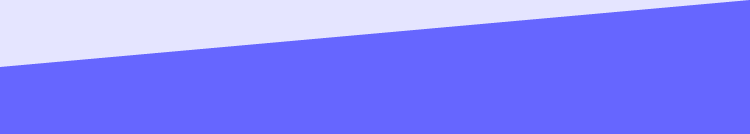|
||||||||||
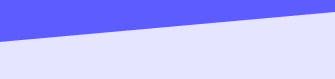 |
||||||||||
 |
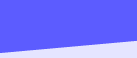 |
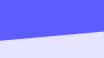 |
 |
|||||||
A Presente Crise Financeira e Económica1. Das CausasConvém, antes do mais, referir alguns dos factores explicativos da presente crise financeira e económica internacional, apresentando, simultaneamente, soluções. Muitos economistas preferem proceder a um diagnóstico da presente crise, sem, todavia, apresentarem soluções concretas, antes se limitando a propostas vagas e imprecisas, do género de que se torna necessário estimular a despesa, mas que tal não se apresenta fácil de concretizar, uma vez que importa não aumentar, significativamente, os défices orçamentais, não se apresentando, também, possível incrementar a Dívida Pública, apontando, tão somente, o caminho do investimento na formação e na educação, na esperança de um dia “redentor” em que, fruto de uma recuperação da situação económica internacional, as exportações poderão aumentar a um ritmo tal que haverá crescimento sustentado e redução do desemprego. Sem ofensa, os ditos economistas “encomendam-se a Deus Nosso Senhor” – o que, em boa verdade, é sempre louvável – e esperam, serenamente, que a Intervenção Divina opere os necessários Milagres. Acontece que a presente crise teve, de facto, a sua origem numa deficiente gestão de liquidez pelo Sector Financeiro, numa sobrevalorização de activos e numa má gestão do risco, sendo certo que os primeiros sinais deste conjunto de debilidades surgiram na fase pós - Big Bang dos anos 80. Mas, desde há cerca de 8 ou 9 anos que se apresentava evidente que estávamos confrontados com os primeiros sinais de uma crise económica estrutural. Sectores como os das telecomunicações e da informática – tidos como motores e nucleares aquando da III Revolução Industrial – perderam algum do seu dinamismo e, por conseguinte, a capacidade de inverterem o “ciclo da crise” (ao contrário da situação ocorrida aquando da “Crise do Golfo”, em princípios dos anos 90), gerando-se, a partir de 2002 – 2003, uma situação, ao nível de muitos países desenvolvidos, de crescimento moderado, senão mesmo de quase estagnação ou de para-recessão (que alguns autores preferiram designar de “crescimento homotético”). Sou, aliás, dos que pensam que o problema estrutural da economia mundial só se solucionará quando ocorrer a IV Revolução Industrial e de Serviços e que tal implicará a aposta em sectores em relação aos quais não se constate uma saturação ao nível do grau de satisfação das necessidades dos consumidores, i.e., a aposta em sectores com necessidades infindas por satisfazer. Será, por exemplo, em meu entender, o caso de um sector como o da Saúde. Quando se descobrir a cura de certos tipos de cancro ou do HIV, ou, ainda, quando se descobrirem novas técnicas de produção de medicamentos e/ou de equipamentos médicos, não apenas a esperança de vida à nascença aumentará, como os custos com a saúde diminuirão. Tal permitirá, graças aos avanços tecnológicos, o desenvolvimento de novas actividades – como, por exemplo, o turismo de saúde e o turismo de terceira idade, com efeitos a montante, a jusante e laterais –, bem como uma maior competitividade entre sector público e sector privado em toda a área da Saúde. Mas, regressando à crise, sendo já evidente que existiam, de há uns anos a esta parte, sinais de crise potencial em muitas economias desenvolvidas, com possibilidade de alastramento à semi-periferia e à periferia, propriamente dita, a escola neo-liberal entendeu que a melhor maneira de lidar com a situação existente consistia em privilegiar a componente psicológica, procurando-se evitar que se gerasse desconfiança por parte dos agentes económicos. Tradicionalmente, o Pacto Keynesiano levava a que numa situação de para-recessão (ou de crescimento rastejante) se começasse a baixar a taxa de juro, a aumentar o investimento público (com eventual agravamento do défice orçamental) e a injectar liquidez no mercado. As correntes neo-liberais preferiram (muitas vezes com taxas de crescimento abaixo dos 1-1,5%) aumentar as taxas de juro, reduzir o investimento público e conter o volume de massa monetária em circulação, sempre com o pretexto de que era indispensável manter o grau de confiança dos agentes económicos. Só que os agentes económicos não passaram, por tal facto, a investir mais. O investimento privado em vez de aumentar continuava a diminuir e se havia algum crescimento o mesmo ficava a dever-se mais à expansão (ainda que temperada) do consumo (com recurso a endividamento) do que ao aumento do investimento. É assim que, meses antes do deflagrar da crise financeira internacional, o BCE continuava, calmamente, a aumentar a taxa de referência, proclamando que a prioridade das prioridades estava no combate à inflação. Só perante o inevitável os pensadores neo-liberais tiveram que admitir que talvez fosse de baixar as taxas de juros e de injectar alguma liquidez no sistema financeiro, mas lançando, desde logo, avisos contra as tentações neo-Keynesiana e novo-Keynesiana. Os argumentos aduzidos iam da inaplicabilidade do modelo Keynesiano às economias abertas, à consideração de que os grandes projectos de investimento público tenderiam sempre a privilegiar o Sector de Bens Não Transaccionáveis (só fazendo sentido em economias em que a mão-de-obra excedentária se apresentasse indiferenciada), passando pelo risco de se contribuir para um peso excessivo do Estado (e da burocracia) na economia e na sociedade. Esquecia-se, por convicção ou por ignorância, que a propensão marginal a consumir produtos nacionais não passa, necessariamente, a ser nula se a economia se abrir ao exterior, que os neo-Keynesianos não defendem a tese de que os projectos de investimento público têm que ser, forçosamente, trabalho-intensivos, que os “paliativos” se apresentam, em muitas circunstâncias, de grande utilidade e que um Estado forte não tem que ser, em todas as circunstâncias, um Estado ineficiente. 2. Que proposta?Qual, então, a solução para a actual crise? Sou dos que defendem que o Federal Reserve e o Banco Central Europeu devem injectar, ainda, mais liquidez no sistema financeiro. Esta minha convicção resulta de concordar com as teses defendidas pelos novo-Keynesianos, de acordo com os quais existe viscosidade nos preços (e rigidez nos salários), pelo que a injecção de liquidez pode produzir efeitos benéficos ao nível do rendimento real. Por outro lado, deveria haver uma maior coordenação de políticas económicas na U.E., revendo-se, em certos aspectos, o Pacto de Estabilidade e Crescimento. O investimento público comparticipado por fundos estruturais europeus não deveria ser considerado (na parte correspondente ao investimento público nacional) para efeitos da aplicação do critério do défice. E os avales prestados pelo Estado a PPP – Public Private Projects (na eventualidade de a responsabilidade indirecta se converter em responsabilidade directa) não deveriam ser considerados para efeitos da aplicação do critério da Dívida Pública, se no projecto ou projectos em causa houvesse comparticipação de fundos estruturais. O B.C.E. deveria ser autorizado a financiar directamente os Estados Membros participantes na Zona Euro. Finalmente, o euro deveria desvalorizar em relação ao dólar. Sempre ouvi dizer que é preferível ter uma política do que não ter política alguma. Mal ou bem, apresento o que considero ser uma metodologia, de inspiração neo-Keynesiana ou novo-Keynesiana, de resolução da crise. Seria importante que quem tem ideias diferentes apresentasse, de forma clara, as suas soluções. O sindroma “hiper-competitivo” que conquistou uma Nova Tecnocracia Emergente que, aliada a segmentos dos “Business Angels”, actua tendo em vista a maximização de uma função objectivo de curtíssimo prazo, dissociada dos interesses dos investidores convencionais e dos cidadãos, em geral, terá que ser substituído por um Novo Paradigma, que assente no culto da responsabilidade, ao nível dos gestores, e no culto do serviço público, ao nível dos que desempenham funções políticas. É lamentável assistir-se à invasão da “mentalidade” de alguns responsáveis – na saúde, na economia ou na segurança – pelo sindroma “hiper-competitivo”, com emergência dos novos “yuppies” do aparelho de Estado que, mal chegados a um lugar, já estão a olhar para o lugar hierarquicamente superior, confundindo o bem-público com a mera promoção pessoal. Sem uma mudança de valores, que implique o culto da responsabilidade e do serviço público – a par da “Good Governance” e da Transparência responsabilizadora de que já nos falava Galbraith –, não só se apresentará difícil inverter o ciclo da crise que atravessamos, como poderá ocorrer uma crise sistémica sem precedentes. Daí que tenhamos que apostar não apenas numa auto-reforma do sistema, como também numa transformação profunda de mentalidades que vá ao encontro de um novo conceito – mais responsabilizador – de cidadania. in Tempo Livre n.º 207 (Set. 2009)
© 2006-2010, António Rebelo de Sousa. |